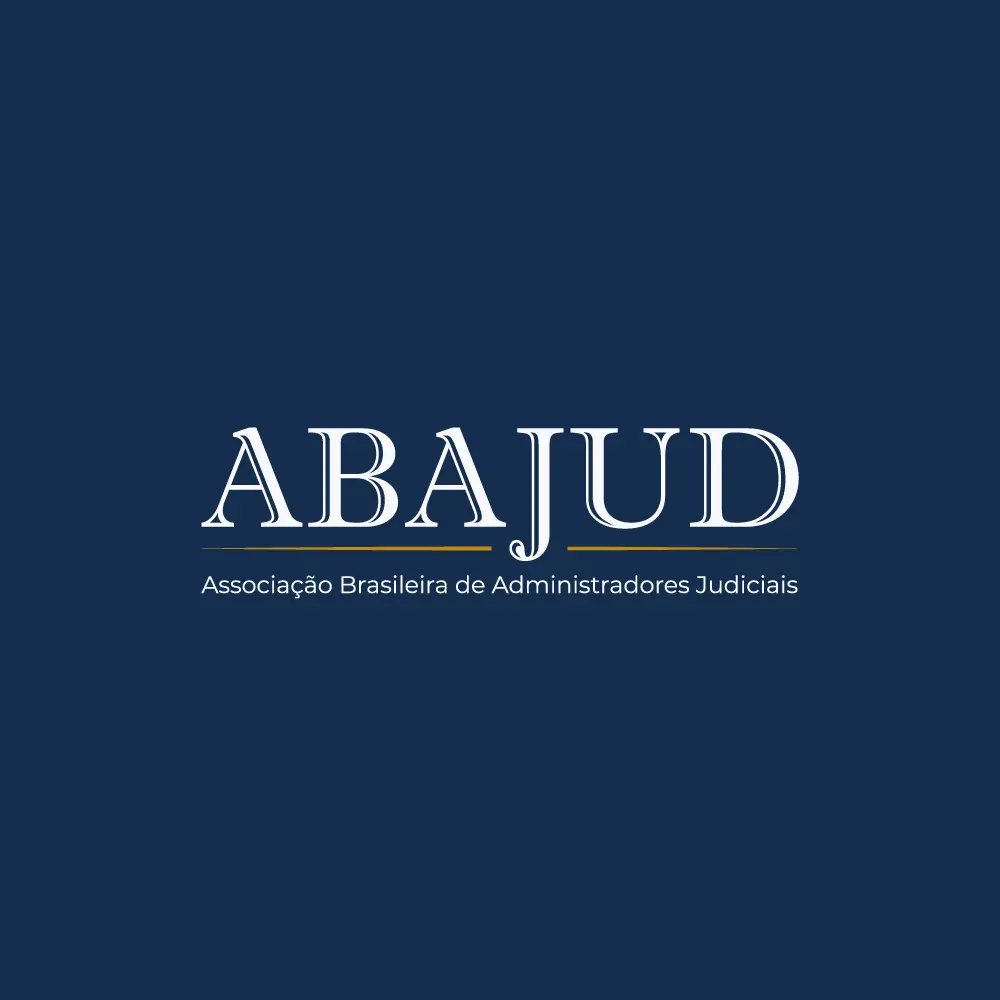Introdução
No último século, a atividade agrária, simples e rudimentar, evoluiu para o que hoje se chama de “agronegócio”, verdadeira atividade empresarial, com complexidade organizacional, gestão profissional e emprego de tecnologias avançadas.
Diante dessa nova realidade, é certo que a atividade rural pode sofrer situação de crise semelhante às demais atividades empresariais existentes na sociedade. Por esse motivo,
e na esteira da jurisprudência que se firmava no Superior Tribunal de Justiça, a Lei nº 14.112/2020 alterou significativamente a Lei nº 11.101/05 para, inter alia, regulamentar a recuperação judicial do produtor rural.
Com o escopo de analisar a constitucionalidade das regras criadas, iniciamos este trabalho discorrendo, brevemente, sobre a evolução da atividade agrária, existente no começo do Sec. XX no Brasil, para o atual agribusiness, delineando as características empresariais deste setor.
Em seguida, traçamos o panorama constitucional da recuperação judicial e os limites que a própria Constituição Federal impõe ao legislador infraconstitucional na regulamentação do instituto, o que servirá de base para a aferição da constitucionalidade das normas referentes ao processo de soerguimento do produtor rural.
Por fim, analisamos, detalhadamente, o tratamento diferenciado que a Lei nº 14.112/2020 conferiu à recuperação judicial do produtor rural, excluindo alguns créditos do processo de soerguimento.
De todos os créditos excluídos da recuperação, nos chamou atenção o disposto no art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/2020, razão pela qual nos debruçamos na análise de sua (in)constitucionalidade, tomando por base o princípio constitucional da igualdade.
Da Atividade Agrária ao Agronegócio: A Revolução do AGRO
Desde a sua descoberta até os dias atuais, o Brasil é um país onde predominam atividades econômicas relacionadas à terra, e essas atividades evoluíram drasticamente nas últimas décadas em termos de tecnologia e organização.
Começando pela extração de pau-brasil e pelo cultivo de cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste, nos Sec. XVI e XVII; passando pela exploração do ouro em Minas Gerais no Sec. XVIII; pelo domínio do café em São Paulo e no sul de Minas Gerais, no Sec. XIX e início do Sec. XX; pela ascensão da soja e do milho na segunda metade do Sec. XX, acompanhada pela evolução da produção de carnes (avicultura, suinocultura, pecuária etc.), entre outras atividades relevantes (algodão, borracha etc.), o Brasil sempre foi um país movido, predominantemente, pela atividade agropecuária, com alguma presença do extrativismo vegetal e mineral.
Nem mesmo industrialização ocorrida nos Sec. XVIII a XX foi capaz de alterar o rumo das atividades econômicas que predominaram no país no tempo vindouro. Pelo contrário: o agro cresceu ainda mais.
Até o início do Sec. XX, a atividade do campo era essencialmente rudimentar. Os produtores rurais enfrentavam os desafios da atividade agrária valendo-se de ferramentas simples e do concurso de animais. O uso de tratores ainda era incipiente, já que não existia produção nacional – dificultando o acesso ao maquinário – e dado caráter embrionário das tecnologias agrícolas.
Foi somente em 1959 que o Governo Federal instituiu o Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas, que fez com que, em 1960, se iniciasse a produção de tratores no Brasil.
Com isso, o crescimento da mecanização do campo foi exponencial. O seguinte gráfico, elaborado com base em dados do IBGE, revela o crescimento da utilização de tratores na atividade agrícola no século passado:

Figura 1: evolução do número de tratores existentes nos estabelecimentos rurais do Brasil.
De acordo com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, em 2017 o Brasil já contava com 1.229.907 tratores, 357.793 plantadeiras/semeadeiras, 172.199 colheitadeiras e 253.206 adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário:
Ao passo em que maquinários de alta tecnologia chegaram às fazendas, a complexidade dos negócios rurais aumentou. O produtor rural passou a ser capaz de lidar com áreas maiores, desde o arado, a semeadura, passando pelo manejo e chegando à colheita. Consequentemente, mais estruturas de beneficiamento e de armazenamento tiveram de ser construídas, assim como ficou mais elaborada a logística de transporte e mais vultosas as operações de comércio doméstico e internacional.
Como a capacidade produtiva aumentou da “porteira para dentro”, a demanda por sementes, fertilizantes, defensivos e outros insumos agrícolas cresceu de maneira correspondente, ensejando o desenvolvimento da cadeia de fornecimento de produtos e serviços da “porteira para fora”, seja para abastecer o produtor rural de insumos ou para dar-lhe suporte contábil, jurídico, negocial, logístico e financeiro.
Além disso, em face ao alto custo da atividade agrícola, as instituições financeiras passaram a ter ampla presença no funding da atividade agrícola brasileira no final do Sec. XX e no Sec. XXI, impulsionadas por programas de incentivo governamentais e amparadas no arcabouço jurídico de garantias provenientes, sobretudo, do mercado imobiliário – em especial, a alienação fiduciária em garantia.
Quase não é preciso mencionar que, para cada safra, inúmeros negócios jurídicos passaram a ser celebrados, de diversas naturezas. Contratos de mútuo, compra e venda a prazo, barter, armazenagem de grãos, frete, adiantamento de contrato de câmbio, entre outros, quase sempre acompanhados de alguma espécie de garantia ou da emissão de títulos de crédito, como a CPR – Cédula de Produto Rural, além dos contratos relacionados ao imóvel rural, tais quais o compromisso de compra e venda, a parceria agrícola e o arrendamento.
Toda essa complexidade tornou inexorável a organização contábil, jurídica e econômica da atividade do produtor rural que, deixando a agrariedade de outrora, passou a configurar verdadeira empresa – o que se denominou de agronegócio ou agribusiness. Atualmente, o produtor rural exerce mais atividades empresariais, relacionadas ao planejamento e à organização do negócio, do que a atividade agrícola propriamente dita. Se, no passado, era o produtor quem manejava a enxada ou arreava o burro, hoje são os seus funcionários que dirigem os imponentes e caros maquinários agrícolas de alta tecnologia.
Como se percebe, ao longo do último século, atividade agrária, simples e rudimentar, deu espaço ao robusto e organizado agronegócio, verdadeiro ramo empresarial dotado de complexidade organizacional e jurídica.
Feitas essas considerações sobre a revolução do agronegócio brasileiro, passamos a analisar o regramento legal referente à recuperação judicial do produtor rural.
Panorama Constitucional da Recuperação Judicial e Limites do Legislador Infraconstitucional
A recuperação judicial é amplamente amparada pela Constituição Federal, que também impõe balizas para que o legislador infraconstitucional regulamente esse valioso instituto jurídico.
Com efeito, encontra-se suporte à recuperação judicial nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da República (CF, art. 1º, inc. IV); na construção de uma sociedade livre, justa e solidária e na garantia do desenvolvimento nacional, como objetivos da República (CF, art. 3º, incs. I e II); no princípio da função social da propriedade (CF, arts. 5º, incs. XXIII e XXVI; 170, inc. III; 182, §2º; 184, 185, parágrafo único, e186); nos princípios da ordem econômica (CF, art. 170) etc.
Como se nota, a Carta Maior alberga, em sua principiologia, o instituto da recuperação judicial, que, pautada no princípio da preservação da empresa, tem por característica essencial ser um mecanismo de manutenção de empregos, contratos, produção, geração de renda, mediante a participação solidária dos credores.
Entretanto, a própria Constituição impõe limites ao legislador ao disciplinar a recuperação judicial.
Em verdade, o texto constitucional não deixa dúvidas sobre a abrangência do princípio da igualdade: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CF, arts. 5º, caput).
Na aplicação do referido princípio, a Corte Excelsa esclarece que “a igualdade consiste em tratar-se desigualmente os desiguais”, reafirmando, quase 2300 anos depois, a ideia de Aristóteles de igualdade [formal], vinculada à “justiça relativa que dá a cada um o seu”.
Como a igualdade formal se restringia à aplicação de lei, não alcançando a sua criação, a distinção entre homem e mulher, senhor e escravo, fidalgo e plebeu era plenamente aceitável. O que não era admitido, contudo, era que dois homens da mesma classe social, dois escravos ou dois plebeus, diante do mesmo fato, fossem tratados diferentemente.
Diante dessa “percepção de que a igualdade formal não afastava, por si só, situações de injustiça”, conforme aponta Ingo W. Sarlet, a noção de igualdade evoluiu para “se afirmar a exigência de que o próprio conteúdo da lei deveria ser igualitário, de modo que de uma igualdade perante a lei e na aplicação da lei se migrou para uma igualdade também ‘na lei’”.
Em outras palavras, o reconhecimento da igualdade em seu sentido material impôs que a própria lei fosse racional ao conferir tratamento diferenciado entre as pessoas, sempre com o objetivo de ordenar a sociedade de acordo com as necessidades de cada grupo social e das diferentes atividades exercidas no seio social.
Com isso, não somente a aplicação da lei, mas a sua própria criação passou a ser vinculada aos ditames da igualdade, não sendo lícito ao legislador conferir tratamento diferenciado a pessoas em situações idênticas, sob pena de esbarrar no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.
Isso posto, conclui-se que, muito embora a recuperação judicial encontre amplo respaldo na Constituição Federal, é certo que o legislador infraconstitucional deverá observar, na regulamentação do instituto, as balizas impostas pela própria Constituição – dentre as quais, o princípio da igualdade.
Adiante, pontuaremos o tratamento diferenciado conferido pela Lei nº 14.112/2020 aos créditos sujeitos à recuperação judicial do produtor rural, para, então, analisarmos essa distinção em face ao princípio da igualdade.
Créditos Sujeitos à Recuperação Judicial do Produtor Rural: Análise da Lei nº 14.112/2020 em face ao Princípio da Igualdade
A Lei nº 11.101/05, modificada pela Lei nº 14.112/2020, define quais créditos estão sujeitos à recuperação judicial e quais não são por ela atingidos.
Em síntese, estão excluídos da recuperação judicial, entre outros, os créditos:
⦁ De quem mantém a propriedade sobre a coisa (fiduciário, arrendador mercantil, promitente vendedor por contrato irrevogável ou irretratável, vendedor com cláusula de reserva de domínio) – art. 49, §3º;
⦁ De adiantamento a contrato de câmbio – art. 49, §4º;
⦁ Que não decorram exclusivamente da atividade rural, quando esta for a atividade recuperanda – art. 49, §6º;
⦁ Concedidos na forma da Lei nº 4.829/65 (que institucionaliza o crédito rural), se já renegociados antes do pedido de recuperação judicial – art. 49, §§ 7º e 8º;
⦁ Para aquisição de propriedades rurais, desde que a dívida tenha sido constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – art. 49, §9º;
⦁ Os atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados – art. 6º, §13;
⦁ Os créditos e garantias vinculados à CPR – Cédula de Produto Rural física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou representativa de operação de troca por insumos (barter) – art. 11, Lei nº 8.929/94.
Outros créditos estão afastados da recuperação judicial por força de normas especiais, como os créditos fiscais tributários – conforme o disposto no artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional –, ou mesmo pelo reconhecimento jurisprudencial de sua não submissão – tal qual os créditos decorrentes de contratos bilaterais em que contraprestação ainda não foi cumprida.
Como se percebe, o ponto em comum dos créditos não sujeitos à recuperação judicial é que eles se referem à natureza do crédito e às especificidades que o circundam.
Até mesmo os créditos dos cooperados em face às cooperativas guarda a mesma lógica. Afinal, a ratio legis de excluir esses créditos da recuperação judicial advém do fato de que, por essência das entidades cooperativas, elas tendem a beneficiar os seus cooperados, oferecendo produtos e serviços a um custo inferior ao normalmente praticado no mercado. Essa é uma especificidade do crédito oferecido pelas cooperativas aos seus cooperados. Assim sendo, há quem sustente que, uma vez comprovado que o crédito é oriundo de negócio jurídico praticado em condições normais de mercado, mormente em relação ao preço, é possível se pleitear a sua excepcional submissão à recuperação judicial.
Analisemos, portanto, a recuperação judicial do produtor rural relativamente aos créditos estranhos à atividade rural – art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/2020.
Conforme ensina Marcelo Sacramone,
Sob a justificativa de que tais credores não conheceriam a circunstância de que o devedor poderia ser caracterizado como empresário futuramente e, portanto, não seriam surpreendidos com o processo de recuperação judicial, procurou o legislador evitar que quaisquer créditos em face desse produtor fossem sujeitos à negociação coletiva.
O dispositivo legal restringiu os créditos que serão submetidos ao procedimento de recuperação a apenas os créditos relacionados diretamente à atividade rural, vencidos ou vincendos, e desde que tenham sido contabilizados pelo devedor.
(Grifamos)
Como se nota, existe um motivo plausível para o afastamento dos créditos alheios à atividade rural da recuperação judicial do produtor rural. Afinal, a especificidade dessa atividade, cujo registro empresarial é facultativo e constitutivo, recomenda o estabelecimento de maior proteção aos credores que, por não fornecerem produtos ou serviços ligados ao agronegócio, não sabem da possibilidade de o devedor entrar em recuperação judicial.
Contudo, como fica a situação do produtor rural que optou por registrar a sua atividade no Registro Público de Empresas Mercantis?
Conforme o exposto acima, a atividade agropecuária evoluiu drasticamente no Brasil no último século, tendo a atividade agrária, rústica de antigamente se transformado em sofisticado agribusiness, com tecnologia de ponta, alta complexidade operacional e gestão profissional.
Pois bem. Ao promover o registro, o empresário do ramo do agronegócio (empresário rural) confere publicidade à sua atividade, munindo os credores de todas as informações necessárias para a análise de risco do oferecimento do crédito. Além disso, fica o empresário rural sujeito à escrituração contábil prevista nos artigos 1.179/1.195 do Código Civil, devendo autenticar os livros obrigatórios perante o Registro Público de Empresas Mercantis anualmente (Código Civil, art. 1.181).
Assim sendo, tão logo promovido o registro do empresário rural no Registro Público de Empresas Mercantis, em nada ele se diferencia dos demais empresários.
Logo, para os créditos constituídos posteriormente ao registro do empresário rural no órgão competente, não subiste o motivo que fez o legislador incluir o §6º ao artigo 49 da Lei nº 11.101/05.
Feitas essas considerações, a única conclusão possível é a de que os créditos constituídos posteriormente ao registro do empresário rural no Registro Público de Empresas Mercantis devem ser abrangidos pela recuperação judicial do empresário rural, sob pena de violação do princípio da igualdade em seu sentido material.
Vejamos as premissas desse raciocínio:
⦁ O princípio da igualdade, em seu sentido material, impõe que a própria lei se submeta ao crivo da racionalidade para o estabelecimento de distinção entre as pessoas, sendo necessário motivo idôneo para qualquer distinção;
⦁ A atividade rural tem tratamento diferenciado na recuperação judicial, mais gravoso ao empresário rural, consistente em afastar do processo de soerguimento os créditos não relacionados exclusivamente à atividade rural;
⦁ A justificativa do tratamento mais gravoso ao empresário rural é a facultatividade do registro empresarial, uma vez que os credores que não fornecem produtos ou serviços relacionados à atividade rural não saberiam, antes do registro, que o devedor poderia se valer da recuperação judicial;
⦁ Após a inscrição do empresário rural no Registro Público de Empresas Mercantis, a atividade rural se iguala às demais atividades empresariais;
⦁ Os créditos existentes na data do registro empresarial do empresário rural foram constituídos ao tempo em que o produtor rural optava pelo regime civil de sua atividade, justificando o tratamento diferenciado na recuperação judicial;
⦁ Os créditos constituídos posteriormente ao registro da atividade rural se igualam, em pressupostos fáticos e jurídicos, aos créditos constituídos contra empresários de outros ramos da economia – restaurantes, supermercados, distribuidoras etc.
Postas essas premissas, é inexorável que se conclua, repita-se, que os créditos constituídos posteriormente ao registro da atividade rural no Registro Público de Empresas Mercantis devem estar sujeitos à recuperação judicial, independentemente de estarem, ou não, relacionados à atividade rural, sob pena de violação do princípio da igualdade.
Afinal, como o empresário rural fica em idêntica situação fática e jurídica dos demais empresários após o registro, não há motivo plausível para a exclusão dos créditos constituídos após o registro da atividade do processo de soerguimento.
Como se nota, ao dar idêntico tratamento, na recuperação judicial do empresário rural, aos créditos constituídos antes e depois do registro empresarial, a norma do §6º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/2020, incorreu em vício de inconstitucionalidade.
A norma é apenas parcialmente inconstitucional, haja vista que os créditos constituídos anteriormente ao registro da atividade podem, por que não, receber tratamento diferenciado – como optou o legislador –, já que a atividade rural sem registro está, mesmo, em situação diferente das demais atividades empresariais.
O que não se admite, contudo, é que os créditos construídos após o registro da atividade rural continuem tendo tratamento diferenciado, não se submetendo à recuperação judicial, sob pena de violação do princípio da igualdade – afinal, após o registro, a atividade rural é juridicamente idêntica a qualquer outra atividade empresarial.
Conclusão
Nas linhas acima, cuidamos de demonstrar, brevemente, como a atividade agrária, rudimentar, do início do Sec. XX, evoluiu para o complexo agronegócio, revestindo-se de características e complexidade essencialmente empresariais.
A diversidade de contratos celebrados, o financiamento por instituições financeiras, a emissão de títulos de crédito, a organização da cadeia de fornecimento, da produção, do armazenamento, do escoamento (transporte) e do comercio, interno e externo, impuseram ao produtor rural que profissionalizasse a gestão de seu negócio.
Posteriormente, tecemos breves comentários sobre o amparo que a Constituição Federal confere à recuperação judicial para, então, de maneira mais minuciosa, ressaltar que a própria Carta Maior impõe ao legislador a observância do princípio da igualdade, em seu aspecto material, na regulamentação do instituto.
Mais especificamente, apontamos que todo e qualquer tratamento diferenciado na recuperação judicial, notadamente no que se refere à forma em que o instituto é aplicado a uma ou outra atividade empresarial, deve ter justificativa plausível e racional, sob pena de violação do princípio da igualdade.
Em seguida, analisamos o tratamento diferenciado e mais gravoso que a Lei nº 14.112/2020 deu à recuperação judicial do produtor rural em face ao princípio da igualdade.
Observamos, especialmente, que a limitação de que somente os créditos relacionados exclusivamente à atividade rural é que estão submetidos à recuperação judicial (art. 49, §6º, da Lei nº 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/2020), somente é idônea em relação aos créditos constituídos antes do registro da atividade rural no Registro Público de Empresas Mercantis.
Isso porque, como discorremos amplamente acima, não haveria como os credores preverem que o produtor rural, que optou por não registrar a sua atividade, se valeria da recuperação judicial. Essa circunstância, portanto, não teria sido considerada na análise de risco do crédito. Consequentemente, por estar em situação diferente das demais atividades, a atividade rural sem registro pode ter tratamento diferenciado no processo de soerguimento, ao menos em relação aos créditos existentes antes do registro da atividade.
Entretanto, após o registro da atividade rural no Registro Público de Empresas Mercantis, não há qualquer justificativa plausível para o tratamento diferenciado da atividade rural na recuperação judicial. Como apontamos e repetimos supra, assim que a atividade rural é registrada, ela se equipara, juridicamente, às demais atividades empresariais existentes na sociedade. Logo, inexiste qualquer justificativa plausível para que os créditos constituídos após o registro da atividade rural estejam, pelo simples fato de não se relacionarem à atividade rural, excluídos da recuperação judicial.
Reconhecemos, portanto, como é de rigor, que viola o princípio da igualdade afastar, da recuperação judicial do produtor rural, os créditos constituídos após o registro da atividade rural no Registro Público de Empresas Mercantis, ainda que os créditos não decorram exclusivamente da atividade rural.
Diante disso, concluímos que o artigo 49, §6º, da Lei nº 11.101/05, incluído pela Lei nº 14.112/2020, é parcialmente inconstitucional, de modo que (i) é constitucionalmente válida a exclusão, do processo de soerguimento, dos créditos constituídos anteriormente ao registro da atividade rural; (ii) é inconstitucional a exclusão, da recuperação judicial, dos créditos constituídos posteriormente ao registro da atividade rural, por violar o princípio da igualdade.
Primavera do Leste/MT
Março de 2024
LUÍS FELIPE NOGUEIRA PACHECO
OAB/SP nº 352.352
¹ Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-47473-22-dezembro-1959-379054-publicacaooriginal-1-pe.html>, acesso em 11 de março de 2024, às 13h05min.
² Disponível em <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215012/1/Cap02-BreveHistoriaAgropecBR.pdf>, acesso em 11.03.2024, às 13h17min.
³ Dados disponíveis em: <https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/estabelecimentos.html>, acesso em 11 de março de 2024, às 12h54min; gráfico elaborado pelo autor.
4 EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/04. AUSÊNCIA DE REGRAS DE TRANSIÇÃO DESTINADAS A SOLUCIONAR SITUAÇÕES LIMÍTROFES NÃO ABRANGIDAS PELOS NOVOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INGRESSO NA CARREIRA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE, EMBORA NÃO POSSUÍSSE OS TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA EXIGIDOS PELO ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO, ERA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SITUAÇÃO DE EXCEÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO [ART. 128, I e II, DA CB/88]. PRINCÍPIO DA IGUALDADE [ART. 5º DA CB/88]. A IGUALDADE CONSISTE EM TRATAR-SE DESIGUALMENTE OS DESIGUAIS. ORDEM DEFERIDA. 1. A ausência de regras de transição para disciplinar situações fáticas não abrangidas pelo novo regime jurídico instituído por emenda constitucional demanda a análise de cada caso concreto à luz do direito enquanto totalidade. 2. O Ministério Público nacional é uno [art. 128, I e II, da Constituição do Brasil], compondo-se do Ministério Público da União e dos Ministérios Públicos dos Estados. 3. No exercício das atribuições previstas nos artigos 109, § 3º da Constituição e 78 e 79 da LC n. 75/93, o Ministério Público estadual cumpre papel do Ministério Público Federal. 4. A circunstância de a impetrante, Promotora de Justiça no Estado do Paraná, exercer funções delegadas do Ministério Público Federal e concomitantemente ser tida como inapta para habilitar-se em concurso público para o provimento de cargos de Procurador da República é expressiva de contradição injustificável. Trata-se, no caso, de situação de exceção, típica de transição de um regime jurídico a outro, em razão de alteração no texto da Constituição. 5. A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os desiguais. Prestigia-se a igualdade, no sentido mencionado quando, no exame de prévia atividade jurídica em concurso público para ingresso no Ministério Público Federal, dá-se tratamento distinto àqueles que já integram o Ministério Público. Segurança concedida.
(MS 26690, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-03 PP-00666 RTJ VOL-00209-02 PP-00594)
5 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. Malheiros, 2015, pag. 215.
6 SARLET, Ingo, W. et al. Curso de direito constitucional. Disponível em: Minha Biblioteca, (11ª edição). Editora Saraiva, 2022.
7 Ibidem.
8 Impugnação de crédito em recuperação judicial. Contrato de prestação de serviços continuados de exploração econômica de fazenda para cultivo de cana-de-açúcar, celebrado anteriormente à recuperação, com vencimentos posteriores. Pretensão da recuperanda de que todas as prestações sejam habilitadas como créditos concursais. Decisão de improcedência. Agravo de instrumento. Art. 49 da Lei 11.101/2005. Obrigação de trato sucessivo ou de prestação continuada. Caso em que os pagamentos correspondentes a serviços e fornecimentos prestados após o ajuizamento da recuperação judicial – a exemplo de aluguéis, despesas condominiais, contas de consumo d’água, energia elétrica “etc.” – são considerados créditos extraconcursais. Doutrina de MARCELO BARSOSA SACRAMONE e MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO. Jurisprudência das Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257453-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina – Vara Única; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021)
9 De acordo com Marcelo Sacramone: “As justificativas ao acolhimento da Emenda 13 ao PL n. 6.229 pelo relator, e que inseria o dispositivo legal, foram exclusivamente a peculiaridade que caracterizaria as operações realizadas no âmbito das cooperativas e a importância dessas para o desenvolvimento econômico nacional.
O ato cooperativo praticado entre a cooperativa e seus associados é qualquer operação destinada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Por essa posição adotada pelo legislador, como os atos cooperativos não visariam ao lucro, mas ao bem comum, não poderiam ser caracterizados como operação de mercado ou contrato de compra e venda regular de produto ou mercadoria (art. 79 da Lei n. 5.764/71).
Tais características peculiares do cooperativismo e que fariam com que o conflito de interesses típico dos contratos a mercado fosse atenuado em função do mutualismo entre cooperativa e do cooperado fizeram com que o legislador tratasse de forma diferenciada os créditos decorrentes desses contratos e não os submetesse às recuperações judiciais dos cooperados.” Sacramone, Marcelo B. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Editora Saraiva, 2023.
0 Sacramone, Marcelo B. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Editora Saraiva, 2023.